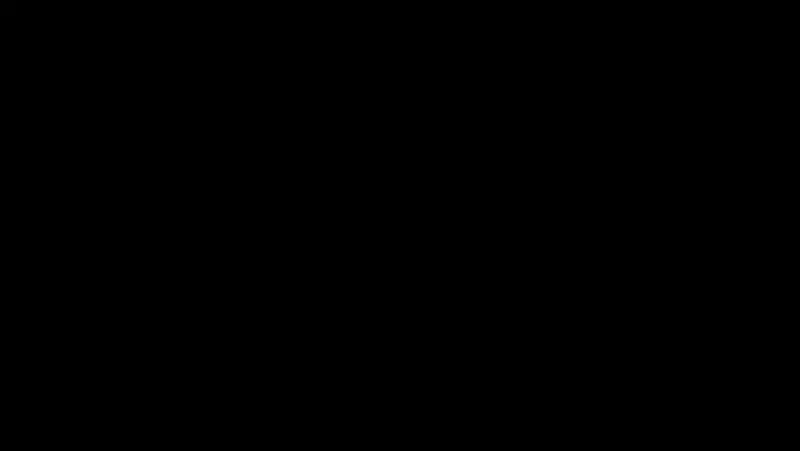Devolver as imagens
Estamos diante de uma imagem enigmática, desacompanhada de explicação senão a câmera ágil a seguir Krôhôkrenhũm, o Capitão, em uma espécie de demonstração ou reencenação. Em seguida, vemos o travelling pela cidade de Marabá ao som de Quem eu quero, não me quer, de Raul Sampaio: o pôr do sol no rio Tocantins, casas antigas e o hotel local – “no meu quarto de saudades, a solidão mora comigo” – que, em um corte seco, se substituem pelo prédio de vidros espelhados, o agroshopping e a estátua fake que anuncia a presença greco-alienígena da Havan – “o que será da sua vida, da minha vida o que será, não sou capaz de ser feliz”. A música é então interrompida pelos ruídos do trem e da rodovia, linhas de transmissão a cortar transversalmente o quadro. De carro, Vincent Carelli vai ao encontro de Madalena, viúva mais velha de Krôhôkrenhũm, para devolver a ela os registros em áudio e imagem de Frei José, que esteve junto ao povo Gavião no período pós-contato, nos anos 1960.
Chegadas e partidas
Cenas de chegada e partida são recorrentes, constituidoras, diríamos, da tessitura narrativa dos filmes da trilogia de Vincent Carelli, realizada junto a seus parceiros Tatiana Almeida (Tita) e Ernesto de Carvalho¹. Trata-se, assim, de um cinema do reencontro, algo que Cláudia Mesquita já notara em relação aos desdobramentos de Cabra Marcado para Morrer (1964-84), de Eduardo Coutinho, em A família de Elizabeth Teixeira e Sobreviventes de Galileia, ambos de 2014. Mas se a obra de Coutinho se notabilizou – alcançou sua singularidade estética – pela centralidade metodológica que confere ao “encontro” com personagens que se constroem e se elaboram diante da câmera, em Carelli predomina mais fortemente a figura do “reencontro”. Compartilhando, muitas vezes, a cena com o diretor, as personagens parecem retomar o fio de uma conversa e de uma relação anterior, que é acolhida pela câmera, ela também a participar da cena.
Impressiona, antes de tudo, que estes reencontros aconteçam entre tantas pessoas – conhecidos, companheiros e amigos de aldeias, retomadas e acampamentos de tantos povos. Essa atenção ampla e generosa a experiências tão diversas não impede a dedicação àqueles que se tornam amigos e companheiros de jornada, em um entrelaçamento entre a própria vida, a vida de grupos e coletivos indígenas e, dado o largo arco temporal que esses encontros e reencontros abarcam, a própria história do país. Como já notavam Clarisse Alvarenga e Bernard Belisário, em sua abordagem de Corumbiara (2009), estamos no âmbito dos filmes-processo, nos quais a forma fílmica se entrelaça ao vivido²; obras irremediavelmente marcadas pela história, como acrescenta Mesquita. “Através de formas muito singulares, porque engendradas caso a caso, as escrituras desses filmes acolhem e ao mesmo tempo se fendem, se modificam, fortemente marcadas pelos processos vividos”³. Experiência histórica que se inscreve na narrativa e na matéria expressiva dos filmes, estes que alcançam, cada qual a seu modo e em sua escala, intervir no próprio curso da história.
Juntar fragmentos
Ainda de dentro do carro, Vincent Carelli avista Madalena, que espera a chegada do amigo em seu retorno, dois anos após a morte de Krôhôkrenhũm, com quem Carelli cultivava o projeto de “difundir os registros do seu legado para as futuras gerações”. Como diante de um álbum de família, Madalena vai, aos poucos, identificando e nomeando as pessoas no registro feito por Frei José Caron. Ela vê as fotos, realizadas em 1951, por José Medeiros, para a revista O Cruzeiro, de outro grupo Gavião, que teria desaparecido, sem que se saibam ao certo as causas. Vê ainda fotografias de Krôhôkrenhũm, jovem guerreiro, de olhar firme e altivo.
Juntam-se aos dois Coiquira, irmã do Capitão, e Jojoré. Nas fotos, Coiquira, criança, vestida de Rainha da Castanha na festa em Marabá. Sabendo da epidemia pós-contato que assolava a aldeia do Igarapé Praialta, a esposa do prefeito de Itupiranga, Margarida, conhecida por Nêga, buscou as crianças para tratamento na cidade. Muitas delas não foram devolvidas quando curadas, algumas levadas para Marabá. “Toda vez que planejavam me buscar, sempre tinha alguém que me escondia. E realmente foi minha salvação, hoje eu tô aqui. Talvez, se eu tivesse voltado, eu não estava aqui”, conta Jojoré.
A cena, no início de Adeus, Capitão, cifra o sentido destes reencontros mediados pelas imagens. Movidos pela devolução de imagens feitas por outrem, sobreviventes do contato buscam reconstruir a narrativa da dispersão “pós-hecatombe” (na definição de Carelli), “tentam juntar fragmentos de suas histórias de vida”. A foto de 1964 mostra os sobreviventes do contato, Madalena, Krôhôkrenhũm e os jovens órfãos, estes conhecidos como “meninos do Capitão”. A narração continua, para enfatizar que aqueles jovens passariam a ser seus amigos na aldeia, Manoel, Raimundo e Pedro.
Reclamar o nome
Nomear, um a um, na fotografia de outrora é, na conhecida formulação de Walter Benjamin, reclamar o nome daqueles e daquelas que ali viveram e que não querem se extinguir na “arte”.⁴ Para que a imagem fosse feita, era preciso, por iniciativa do fotógrafo indigenista, reunir aqueles que se dispersaram. Algo que, no presente, Adeus, Capitão busca também fazer, a seu modo: reunir fragmentos de uma história de dispersão e de exílio na própria terra. Os nomes ditos e escritos sobre a imagem sugerem uma cisão que atravessa todo o filme: Madalena, Raimundo, Manoel, Pedro, José, João, Alzira... e os nomes em língua Timbira: Krôhôkrenhũm, Kaprêktyire, Akukàre, Jõxarati, Ajanã, Puhêre, Inxôre, Xôntapti, Kukakrykre, Kàtyki...
Vindos de um sonho
A conversa em torno das fotografias prossegue com Pedro, que logo se depara com a imagem da mãe e do pai, antigo cacique, sobre cuja morte ele não sabe ao certo. Na imagem precária, quase a se desfazer, eles parecem vindos de um sonho, como se nos indagassem de outro tempo, de um mundo outro. Mas, aqui, o que a fotografia testemunha é não apenas o olhar dos ancestrais Gavião, mas a entrada de um mundo no outro, o atravessamento de uma por outra história.
Cena do reencontro
Como várias nesse filme, esta é, de fato, uma cena do reencontro, uma conversa entre dois amigos, Pedro a contar, sem pressa, um pouco de sua trajetória de vida ao amigo. O diretor persiste seguindo o fio da narrativa que ouve, reencontrando, aqui e ali, as personagens de uma história dispersada por Marabá e Belém. “Hoje”, a narração nos diz, “me deparo com as chaves para compreender as questões que eu não ousava perguntar quando Capitão era vivo”.
A cena do reencontro – cena, porque mediada pela câmera e, de alguma maneira, organizada e endereçada a ela; e do reencontro porque sensivelmente construída no afeto, na fala e na escuta francas e na amizade de há muito – reaparece ao longo de todo o filme (há ali imagens feitas nas décadas de 1980, 1990, em 2010 e em 2017): com Madalena, com Pedro, com Manoel, com José, com Matias, com o próprio Capitão.
A cena se distribui entre as pessoas que participaram da história da família e que o filme permitirá reencontrar, como Dona Edna, que acolheu as crianças em Itupiranga e que permanece na cidade. Vendo as fotos de Frei Gil, ela comenta: “morreu muito índio naquele tempo. Quando saíram daqui pra Mãe Maria, já eram só 43, dos 73 que havia”. D. Edna tem suas próprias fotos daquele momento: em uma delas, Krôhôkrenhũm com seu arco e flecha, e, em outra, ele novamente, experimentando uma Pepsi.
Vida em imagens, vida entre imagens
Como em outros filmes da trilogia, os reencontros são mediados pelas imagens, sejam os arquivos convocados em cena, provocando os testemunhos ou mobilizados na montagem; sejam as novas imagens produzidas por uma câmera sempre presente. Como dizíamos, em outro texto, trata-se de “reencontrar pessoas e imagens, reencontrar pessoas nas imagens, fazer as pessoas reencontrarem imagens da própria história”.⁵
Mais uma vez, o trabalho do Vídeo nas Aldeias coloca o cinema a serviço da história dos indígenas em uma deliberada articulação entre filmar, pesquisar e montar. De um lado, todo o trabalho de produzir arquivos (a partir dos registros, em direto, das mais diversas experiências e também da pesquisa e salvaguarda de registros feitos por outros, como, aqui, os registros de Frei José). Vale, nesse ponto, ressaltar que, com mínimos e insuficientes recursos, o trabalho do VnA se dedica insistentemente aos arquivos e acervos de imagens, algo que remonta à experiência fundante do Centro de Trabalho Indigenista. Por outro lado, trata-se de montar estes arquivos em narrativas que nos mostram histórias que o discurso do progresso e do desenvolvimento tratou de negligenciar; histórias que expõem, portanto, o avesso – contracolonial – da imagem da Nação.
Produzidos em sua longeva parceria com Capitão, os registros de Vincent Carelli, convivem na montagem com outros arquivos, que fazem da trajetória de Krôhôkrenhũm uma vida em imagens (alguém transformado em imagem, para lembrar a formulação de Pajé Agostinho naquele filme do VnA, feito em outro contexto, mas sobre uma experiência histórica de contato, epidemia, dispersão, escravização e retomada afim a esta).⁶ Ele e seus parentes estão lá, por exemplo, trabalhando nos castanhais, no filme etnográfico do cinegrafista tcheco Vladimir Kozák. Neste momento, logo após o contato definitivo do grupo Gavião com os brancos (uma “rendição”, em se tratando de um povo guerreiro, como ressalta Carelli), buscando escapar do estigma do “índio bravo”, eles abandonam a língua nativa, casam-se com não indígenas e se transformam em trabalhadores explorados pelo regime do “barracão”, organizado pelos próprios órgãos governamentais que deveriam protegê-los. Na montagem do filme, a música de Raul Sampaio, interpretada pelo irmão do Capitão, retorna para acompanhar as fotografias dos Gavião no momento mesmo em que sua história é atravessada por outra, cindida entre a vida anterior ao contato e aquela cativa do trabalho precarizado.
Habitar a destruição
O que o filme nos mostra – e nisso as imagens feitas por Vincent Carelli e seus aliados são protagonistas, diferindo-se talvez de outros documentos –, contudo, é a constante reinvenção de um povo, a criação de modos de habitar a destruição de seu mundo. Afeitas a seu indigenismo alternativo e a um olhar duradouramente engajado nas experiências que filma (um cinema do reencontro é, antes de tudo, resultado deste engajamento), o que as imagens de Vincent Carelli acompanham é a busca pela autodeterminação de um povo, o que significa a tentativa de retomada da língua, dos grandes ciclos rituais e a construção de sua autonomia política e econômica. Se esta busca é eivada de contradições, é porque as mazelas do contato não cessam de se atualizar, ganhando novas configurações – sucessivas frentes de expansão do capital: a exploração nos barracões, as linhas de transmissão de energia elétrica, gerada em Tucuruí; a ferrovia de Carajás; a estratificação social provocada pela chegada de grandes quantias de dinheiro à aldeia, a dependência das empresas da eletricidade e da mineração.
Repetição diferida
Se a história não é linear, é porque marcada por uma espécie de repetição diferida, que se inscreve na montagem do filme (talvez, para estruturá-la): a cada evento que parece se repetir, ele se mostra complexificado, expondo novas cisões e contradições. A história pregressa de Krôhôkrenhũm como “índio bravo”, protagonista de guerras internas, retorna em testemunho do próprio Capitão, acompanhado de imagens de arquivo e da voz over de Vincent Carelli; o registro que abre o filme, lá se propondo como enigma, retorna junto à narração. A dimensão sensível da imagem – a reencenação do Capitão – é atravessada pela elaboração da história: sabemos agora que o registro foi feito por Raimundo, “filmador” do grupo, formado por Vincent; as guerras internas, sabemos ainda, não são tão internas assim, mas resultantes da pressão das frentes castanheiras que intensificam rivalidades do grupo na disputa por um território crescentemente assediado e invadido. Há, ainda, as armas adquiridas após o contato, que vêm alterar a letalidade da guerra. O comentário às imagens tem o sentido de dar a ver as tensões internas em um território que se vê, a partir de então, cortado por grandes empreendimentos, rodovias, ferrovias e redes de transmissão elétrica.
Silêncio e luto
Esse corte, essa cisão de uma história por outra, evidencia-se tanto nas imagens e testemunhos ligados à vida do grupo – a transformação dos modos de vida, sua alteração pela exploração do trabalho – quanto em imagens que mostram as intervenções mais amplas no território, a floresta cortada transversalmente pela linha reta das estradas e pelo avanço do desmatamento e da mineração.
Sobre a imagem da floresta crescentemente tomada pelo pasto, ouvimos o Capitão a lembrar que, antes, não havia “kupen” (o homem branco), este que surgiu “como saúva mesmo, pra pegar a folha dos outros”. Em determinado momento do filme, as imagens aéreas que acusavam o crescente desmatamento, com o travelling, vão dando lugar novamente ao verde denso da floresta, como se o avanço da câmera produzisse o efeito de recuo na história para o momento anterior ao contato: “Aqui, essa terra era toda dos índios, dos Parkatêjê”. A montagem nos leva então para o interior da floresta, retomando, no presente da filmagem, a narrativa do contato, enunciada pelo Capitão. Eis que, em determinado momento do testemunho, uma tela preta interrompe as imagens das trilhas, picadas, igarapés e riachos no interior da mata para durar um pouco mais que o esperado. Sobre a tela preta, o silêncio povoado pelo cintilar de sons da floresta. A mata parece, contudo, escutar aqueles que se aproximam. “Aí ele me chamou e calou”. Diante da catástrofe por vir, este se torna também um silêncio enlutado. O momento do contato é assim narrado, reencenado, expondo, no hiato que a montagem prolonga, uma “hecatombe” silenciosa, que traz junto a si um amontoado de mortos, e que continua, ao longo da história, alterando sua face e seus efeitos.
O fio do canto
Surgido de um fundo infinito, como de um tempo imemorial, rosto coberto de tinta, Zé Preto canta, e seu canto parece se prolongar dentro do filme, ressoando tantos outros cantos entoados por Krôhôkrenhũm e seu grupo. Cantos de iniciação, cantos de luto, cantos de cura, que produzem, ali, o fio de reexistência que o filme persegue, conduzido pela persistente e incansável liderança do Capitão.
Uma a outra epidemia
Depois de narrar o momento do contato e as mortes por epidemia que o sucedem, a montagem liga uma a outra epidemia: como se nos instalássemos em certo grau zero, originário do capitalismo, a morte lenta que ele produz, sua violência visível e invisível. Percorrendo as casas de alvenaria, que preservam em sua organização o desenho de meio-círculo característico das aldeias Jê, Manoel elenca as mazelas do sistema de mercadorias, que atrai os jovens para os modos de vida dos brancos. Na montagem, em um corte seco, passamos da imagem de Manoel, no presente, para a fotografia, em que ele, jovem, sorridente, na proa do barco, atravessa o Tocantins rumo a Marabá. O salto na montagem nos faz perceber como tantas alterações, tantos e contundentes abalos históricos possam caber, afinal, no curso de uma vida. Aquilo que se dá de modo visível, extremamente visível, mas também insidioso – que é, afinal, a ameaça à existência de um povo, exigindo, assim, que ele lute por se reinventar –, se entrelaça à experiência de uma, duas gerações.
Tarefa do cinema
Essa vida tornada imagem permite apreender metonimicamente, em seus saltos temporais, o corte de uma história por outra – como a rodovia Marabá-Belém, recém-construída, a atravessar as terras de Mãe Maria para onde o grupo do Capitão foi removido. Entre a foto de Krôhôkrenhũm, jovem guerreiro, feita no limiar do contato, e o registro, tempos depois, realizado para a CPI do Índio – o Capitão em sua casa, às margens da rodovia, rosto sofrido e exaurido –, vemos o destino de muitos indígenas no Brasil, forçados a se transformar em kupen; tornados, primeiro, “índios” e, depois, trabalhadores precarizados, muitas vezes, escravizados.
Chegadas junto ao contato, as imagens da fotografia e do cinema filmaram a destruição em curso. Capitão faz parte de uma geração “transformada em imagem”, antes, à sua revelia, depois, por seu arbítrio e participação. Como em outros filmes da trilogia, aqui também, em Adeus, Capitão, encontramos o questionamento em torno da tarefa do cinema, ao menos aquela que Vídeo nas Aldeias encampa: testemunhar e acusar as violentas transformações pós-contato sem deixar de enfatizar as formas de se resistir a ela, os modos de reinvenção, as alianças, a busca pela autodeterminação de um mundo no interior de outro mundo; mostrar como vêm de antes os encontros (de aliança e de guerra) entre os povos, a despeito daquilo que costumamos nomear como “primeiro” contato.
Na defasagem de si mesmos
Como em Corumbiara, também neste documentário, revisitamos as imagens de Festa da Moça (Vincent Carelli, 1987, 18min.), filme originário do longevo trabalho do VnA, que tem na devolução das imagens (e naquilo que essa devolução pode acionar) um de seus princípios. Ver-se na imagem, perceber-se na distância de si mesmo, faz com que a história de um coletivo não seja um curso linear e irreversível, mas um lugar de reencontros, revisitas e retomadas. Como a experiência emblemática entre os Nambiquara que, ao se verem nos registros feitos e logo exibidos para a comunidade, resolvem “requalificar a própria imagem” e retomam o ritual de furação há muito abandonado. Experiência que repercute em outros grupos, entre eles, os Gavião. O ato de se verem na defasagem de si mesmos – defasagem que é a da história, que é a do cinema na história – reaparece em outros momentos da trajetória do VnA, mostrando-se como uma estratégia definidora. Em meio aos estímulos do consumo e ao assédio das igrejas evangélicas, as imagens intervêm em um campo de disputa, no interior do qual os jovens se definem e se redefinem.
Reemergências
Se, em sua devolução à comunidade, as imagens são esta espécie de espelho que reflete tanto o passado quanto a possibilidade de futuro, elas também são capazes de dar a ver aquilo que a narrativa do progresso – e seu correlato, a destruição – quer apagar: novamente, a possibilidade de retomar o que teria sido destruído, o que significa reinventá-lo. Pontuando a história de uma vida – que coincide, parcialmente, com a história de um povo –, os reencontros com as imagens e, por meio delas, com a ruína (o arruinamento, a catástrofe) possibilitam a reemergência, em seu interior, do fio quase invisível, mas resiliente, de uma sobrevivência. O que se apaga, se recalca, o que adormece, o que quase se extingue, pode, em uma história que não se queira inexorável, encontrar as condições para sua reemergência – que, como também nos ensina o filme, não é resgate, mas criação.
Por isso, em Adeus, Capitão (assim como nos dois outros filmes da trilogia), o espelho se endereça também para nós, espectadores brancos, de modo a interrogar o modo mesmo como concebemos e contamos a história; o modo como, ao fazê-lo, sob a forma do sentido único, recusamos a possibilidade das contradições, dos desvios, das pequenas reviravoltas, das reemergências; a possibilidade de que o fio de uma sobrevivência possa ser reencontrado e retecido por uma coletividade. A aliança de muitos anos entre Vincent Carelli e Krôhôkrenhũm vai no sentido dessa retessitura (com atenção para o prefixo “re”, como em “reencontro”): junto aos cantos e à língua, junto às imagens, reencontrar o fio, ou melhor, os fios; criar com eles novos desenhos, tendo em vista as condições, sempre adversas, do presente.
A história cindida...
O encontro entre Carelli e Krôhôkrenhũm nos anos 80 se dá no momento em que os Gavião, exauridos pela exploração e as injustiças que sofriam, estavam “mudos como arara mordendo pau”, mas começavam a encontrar as condições da reemergência de aspectos de seu modo de vida tradicional: com ajuda da antropóloga Iara Ferraz, a Caturé, o povo Gavião enfrenta o jugo do Serviço Nacional do Índio, tornado Funai, e busca sua autonomia na coleta e comercialização da castanha. Outros grupos Gavião, cada qual vivendo à sua maneira as pressões e violências dos projetos de desenvolvimento do “Brasil Grande”, as invasões de garimpeiros e madeireiros, assim como o assédio dos missionários evangélicos, agora se reencontram em Mãe Maria. Os Gavião do Maranhão, monolíngues, são também deslocados para a nova terra indígena, trazendo de volta os jogos de flecha, a corrida de tora e a possibilidade de retomada da língua e das brincadeiras. Capitão encampa este encontro das novas gerações com os rituais e os cantos e percebe nas imagens um poderoso instrumento de memória e transmissão: sua sombra permanecerá cantando e brincando com seu povo.
Na aliança com Vincent Carelli, essa aposta resulta não apenas nos registros da cultura, mas em documentos de uma experiência constituída na contradição, na medida em que, ali, como reiteramos, as pessoas veem sua história ser cortada e cindida por outra história que lhe é alheia (e com a qual precisam continuamente lidar e se debater): os jovens veem-se premidos entre o desejo de aprender os cantos e a língua nativa, os apelos do consumo e o proselitismo religioso. As indenizações devidas e necessárias vindas das empresas de eletricidade e da mineração despejam na vida da aldeia uma grande quantidade de dinheiro, introduzindo, como efeito, a estratificação social e econômica, além da dependência do grupo às corporações. Desanimado ante a negligência dos jovens em relação às práticas tradicionais de seu povo, Capitão se retira. Mostra-se, no filme, uma liderança admirada por seu legado e desiludida com o abandono da vida ritual, retirando-se para um sítio fortificado fora da aldeia. Os Gavião do Maranhão vão, pouco a pouco, abandonando a língua Timbira, as brincadeiras se descaracterizam, distraindo-se dos protocolos rituais, e o grupo que se reuniu novamente nos anos 1980 divide-se em novas aldeias (brotos de uma raiz forte, como dirá Carelli em sua carta, ao final do filme).
Vemos a partida de Krôhôkrenhũm. Seu enterro se faz aos pés de uma imensa torre de transmissão. Jõprãmre, a jovem que se afligia pelo futuro indígena das novas gerações, tem três filhos, a quem dá nomes em língua Timbira. Como nos conta a narração, ao presenciar um ritual de cura por um pajé Tembé, ela abandona a Assembleia de Deus.
...e suas contradições
Em Adeus, Capitão, a montagem vai das grandes intervenções no território aos anseios e aflições de uma vida, de várias vidas. E destas às novas e traumáticas intervenções. Como em Corumbiara e Martírio, a montagem se quer didática, organizando, de modo generoso e politicamente estratégico, a trajetória de um povo. Mas caracterizá-la assim talvez esconda algo mais profundo que a define: junto a seu didatismo, constituindo-o por dentro, está o gesto de expor, a cada sequência, a cada reencontro, a cada repetição, a cada salto de uma a outra imagem, a contradição das situações vividas, a dimensão incontornavelmente contraditória da história, mais ainda aquela que se atravessa pelas violências do colonialismo e do expansionismo do capital. Sustentar a duração de cada cena de reencontro; fazer acompanhar as imagens dos testemunhos, das conversas e da narração em voz over – bastante presente ao longo do filme; apostar, na montagem, em uma repetição diferida, na qual, a cada volta da imagem, ela ganhe uma nova camada de legibilidade; aproximar, por saltos, diferentes momentos no tempo e diferentes escalas da destruição, assim como as respostas contingentes a ela (respostas indeterminadas em seus efeitos históricos), estas são maneiras de talvez garantir que as imagens não sejam apaziguadas de suas contradições.
Carta ao Capitão
Ao final do filme, a foto do jovem guerreiro nos encara novamente. Em cena, Carelli traduz um áudio em francês: “Krôhôkrenhũm vai dar o nome de todos que estão aqui presentes.” Com a carta lida, em seguida, por Vincent para o amigo, o filme se revela despedida, fazendo jus ao título. Trata-se da tentativa de completar, após a morte do Capitão, o trabalho longamente compartilhado entre os dois companheiros.
Apostando na contradição, mostrando afinal o que é viver em um mundo repetidamente destituído, destruído, Adeus, Capitão revela-se uma crítica avassaladora ao capitalismo predador e à geopolítica de Estado que deixou como único caminho as compensações da parte dos empreendimentos que avançaram sobre as terras dos Gavião. Entre o que está visível na imagem e seu entorno invisível; entre as grandes intervenções no território e a experiência cotidiana dos que nele vivem; entre as trajetórias individuais e a reexistência coletiva de um povo, ao mesmo tempo em que organiza e nos dá a ver uma parcela da história do país – seu avesso –, o filme complexifica – e muito – o entendimento da experiência indígena no Brasil, recusando as leituras apressadas e dificultando os julgamentos precipitados.
Afinal, a distância que o autor assume, necessária para esse trabalho de elaboração, tem sua medida no modo como este mesmo autor se engajou na história que elabora, tendo, ele também, parcialmente vivido e partilhado com Krôhôkrenhũm suas contradições.
Currículo
André Brasil
é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador do CNPq, co-coordena o Grupo de Pesquisa Poéticas da Experiência (UFMG/CNPq). Integra o comitê pedagógico da Formação Transversal em Saberes Tradicionais na UFMG.
Notas
- Corumbiara (Vincent Carelli, 2009, 117min.); Martírio (Vincent Carelli, Ernesto de Carvalho, Tatiana Almeida, 2016, 161min.); Adeus, Capitão (Vincent Carelli e Tatiana Almeida, 2022, 175min.).
- ALVARENGA, Clarisse; BELISÁRIO, Bernard. O cinema-processo de Vincent Carelli em Corumbiara. In: VEIGA, R.; MAIA, C.; GUIMARÃES, V. (Org.). Limiar e partilha: uma experiência com filmes brasileiros. Belo Horizonte: Selo do PPGCOM/UFMG, 2015.
- MESQUITA, Cláudia. A família de Elizabeth Teixeira: a história reaberta. In: forumdoc.bh.2014: 18º Festival do filme documentário e etnográfico – fórum de antropologia e cinema. Belo Horizonte: Filmes de Quintal, 2014. p. 216.
- BENJAMIN, Walter. Pequena história da fotografia. In: Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas, vol. 1. São Paulo: Brasiliense, 1985.
- BRASIL, André. Retomada: teses sobre o conceito de história. In: forumdoc.bh.20anos: 20º Festival do filme documentário e etnográfico – fórum de antropologia e cinema. Belo Horizonte: Filmes de Quintal, 2016.
- Já me transformei em imagem (Zezinho Yube,2008, 31 min.)